CRÍTICA DE LIVROS





Aviso: coleccionadores de arte precisam-se
O livro de Adelaide Duarte traça um perfil do coleccionismo em Portugal, partindo dos casos de José-Augusto França, Manuel de Brito, Joe Berardo e António Cachola.

Artistas amigos do galerista e coleccionador Manuel de Brito, encenando uma Última Ceia (cortesia da Galeria 111)
Título: “Da Colecção ao Museu. O coleccionismo privado de arte moderna e contemporânea em Portugal”
Autor: Adelaide Duarte
Editora: Caleidoscópio
Páginas: 427
Preço: 19,61 euros
Autor: Adelaide Duarte
Editora: Caleidoscópio
Páginas: 427
Preço: 19,61 euros
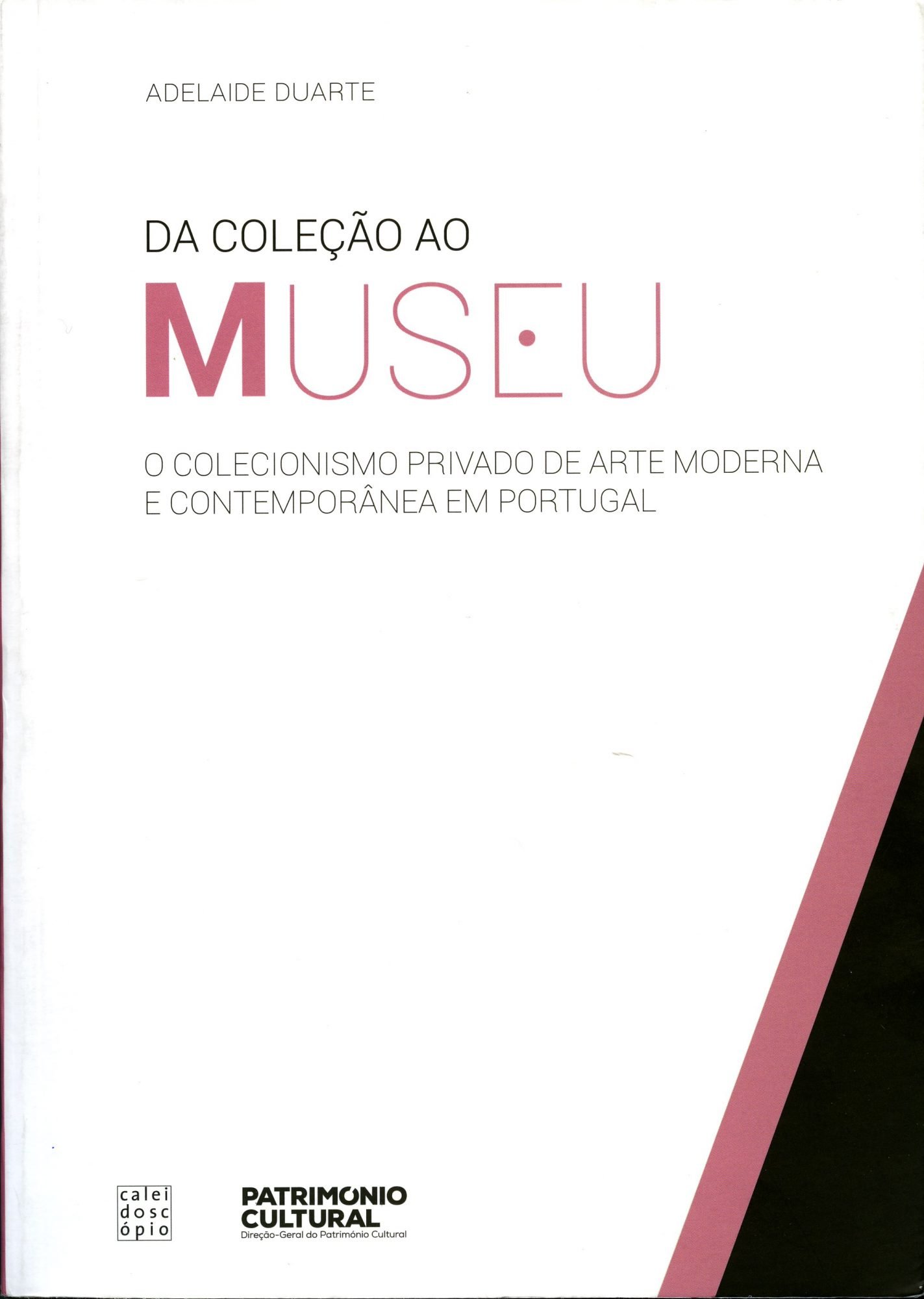
Quando nos debruçamos sobre a legenda de um quadro e constatamos que ele foi doado ao museu que visitamos, palpita logo um módico de gratidão pelo gesto de alguém que decidiu oferecer-nos algo que lhe pertence. Nada pode ser mais social do que essa partilha da arte que a todos deveria interessar (mesmo que a poucos interesse), pois a filantropia cultural justifica-se a si mesma como “devolução” do que foi conseguido pelo esforço bem sucedido de uns em terreno de todos. Mas para que essa dávida pise chão firme e pressinta que será respeitada por muitos anos adiante, torna-se necessário que a própria instituição acolhedora lhe garanta estabilidade, segurança e fiabilidade, sem riscos de omissão institucional ou deriva directiva associada a ciclos de curta duração, político-partidários ou outros. Só o respeito absoluto pelo contrato social que uma doacção também é pode criar uma tradição donativa plenamente reconhecida. Sem garantia de longevidade institucional de quem acolhe doacções, não haverá maneira de que o que é privado passe a público e se cumpra a boa vontade dos doadores.
A filantropia, ainda que motivada por benefícios fiscais, é sempre um multiplicador de capacidades em sociedades maduras, e por isso é tão rara naqueles países, como o nosso, em que o fraco arrojo empreendedor e a placidez do funcionalismo dominante traçam todo o perfil social. Tivemos a sorte única — e verdadeiramente providencial — do legado de Calouste Sarkis Gulbenkian (1869-1955), mas acomodámo-nos rapidamente ao conforto de tão astronómica benesse, sem sequer pretender replicar, à escala modesta e doméstica que é a nossa, a alavanca lúcida e pró-activa do arménio coleccionador de arte e dinheiro. Ao contrário: figuras em evidência continuam a vender, sem pudor e por fortunas, os seus papéis ao Estado (aquele que “tudo pode e deve”…), que por sua vez os exibe como prova dum zelo patrimonial que simplesmente não tem, como logo deixaria à vista uma auditoria — que tarda! — à situação pré-catastrófica da biblioteca a que tais papéis se destinam: a nossa biblioteca “nacional”…
Adelaide Duarte começa o seu livro por uma breve história do coleccionismo de arte, que dos reis e imperadores europeus que fundaram museus nacionais a partir do seu patronato de grandes artistas de génio transitou para magnatas norte-americanos que instituíram fundações e museus que são hoje o melhor que o mundo tem, como o MoMA, criado em 1929, e também lhe deram figuras fascinantes como Peggy Guggenheim (1898-1979), para demonstrar quão decisivos podem ser galeristas e mecenas que vivem de braço dado — e olho vivo! — com as vanguardas artísticas. Dois outros “aceleradores da história da arte” (p. 80), com colecções acessíveis por todos, são lembrados como casos de “compromisso com a arte do seu tempo”: Giuseppe Panza (1923-2010), brasonado industrial italiano de licores e grande colector de arte contemporânea, a ponto de ser comparado aos Médicis; e Charles Saatchi (1943-), publicitário londrino de origem iraquiana e para o bem e o mal galerista influente e coleccionador.
O valor dos privados
Quando passamos deste panorama internacional para o cenário do canteiro pátrio, ficam mais nítidos o atraso endémico, a pequenez dos meios envolvidos, a irrelevância transnacional e, fatalmente, a posição ultraperiférica que nos caracteriza. Os quatro estudos de caso tomados como referência por Adelaide Duarte — as colecções do crítico de arte José-Augusto França, do galerista Manuel de Brito (1928-2005), do negociante Joe Berardo e do empresário raiano António Cachola —, servem muito bem para uma perspectiva do coleccionismo português actual, mas ficam muito abaixo de notas de rodapé em corpo pequeno na crescente bibliografia consagrada desde o início do século aos coleccionadores privados — aliás, agora um tema de debate muito vivo nos altos círculos académicos e museológicos em todo o mundo.
De resto, a dificuldade dita historiográfica de rastrear as colecções particulares portuguesas é logo confirmada na p. 36, quando “a pouca atenção dos investigadores” e “a ausência de estudos sobre o coleccionismo de arte em Portugal” são admitidas pela autora e confirmadas por dois outros historiadores de arte, Vítor Serrão e Raquel Henriques da Silva.
Um ambiente de desinteresse generalizado em coleccionar arte moderna” havia sido sinalizado por França em 1974 (cit. p. 41), e a “secularmente frouxa tradição portuguesa do mecenato e do coleccionismo artístico” por Fernando Pernes em 1988 (cit. p. 97), e se algo mudou entretanto — e certamente mudou — a escala manteve-se sempre “local, com reduzido impacto” (p. 44).
Ainda assim, importa dizê-lo, foram privados a compensarem, com exposições e depósitos, nos anos 1980 e depois, a modéstia dos acervos dos nossos principais museus, as suas “maiores e mais gravosas lacunas” (Pedro Lapa, cit. p. 85), “a falta de uma estratégia coleccionista”, “o desinvestimento”, como mais tarde foram também eles que ajudaram a encher as reservas do Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian e a pôr de pé o Museu de Serralves, neste caso mediante doações e “depósitos voluntários” (sic!) que em 2009, com 2037 peças cedidas, representavam 58% do acervo, cuja “maior consistência” dependia, de facto, dessa “generosidade” (p. 92).

Calouste Gulbenkian
Coleccionadores portugueses raramente adquiriam obras estrangeiras, mas Adelaide Duarte descobriu (p. 98) a excepção de Augusto Vieira de Abreu, co-proprietário da centenária agência portuense de turismo, que no aperto de 1974-75 se viu forçado a vender 60 quadros, que foram reforçar a posição do — à época — nosso coleccionador de maior fôlego, o bem-sucedido banqueiro Jorge de Brito (1927-2006), que activo desde 1968 viria a negociar em 1983 mais de 500 obras modernistas, portuguesas e estrangeiras, com a Gulbenkian, e mais tarde teria, como sabemos, papel preponderante no fundo da Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva.
Tudo isso significava ainda reduzida atenção à arte contemporânea portuguesa, que teria um primeiro impulso pelo meio da década de 1980, com as colecções criadas pela Caixa Geral de Depósitos e pela Fundação Luso-Americana, e não só, em que despontou a figura — e sem dúvida, também o estatuto — do consultor ou curador. Trata-se dum crítico de arte, artista ou académico a quem se reconhece capacidade de dar “coerência”, “programa” ou “conceito” a uma “política de compras” de considerável orçamento, e o especial poder de antecipar o valor de artistas novos e deste modo capitalizar a aquisição de obras que no futuro ganharão destaque na “história da arte” do período em causa. Num meio tão estreito como o nosso, os riscos de clientelismo ou promiscuidade criados pelo império dessas figuras tutelares são muito evidentes, mas a verdade é que elas impuseram o seu “lugar privilegiado dentro do sistema da arte” (p. 115), alternando entre si diferentes cadeiras de poder, num caldo mantido ao longo dos anos sobre hábeis pactos de silêncio e recíproca conveniência, ou secreta disputa, que em alguns casos mistura ou misturou sem pudor assessorias privadas e direcção de museus, ou serviu sem remoque visível banqueiros sinuosos, hoje sujeitos a inquirições judiciais de extrema gravidade.
Como seria de esperar numa tese universitária (base do livro em análise), Adelaide Duarte preferiu contornar esse tema tão polémico ou bicudo, ainda que de drástica actualidade, talvez porque — à parte eventuais constrangimentos pessoais daí deriváveis — o claro exame dos custos e benefícios da acção dos consultores nas colecções corporativas precise de uma distância temporal que ainda não existe. Já lhe bastava a possível retroacção de duas (ou até três) das quatro colecções que estudou, cedidas por “protocolos e contratos de tempo variável, assinados entre os coleccionadores e herdeiros e os respectivos poderes central e local” (p. 119; itálico meu), como ciclicamente sucede com a de Joe Berardo no Centro Cultural de Belém.
Augusto França e Manuel de Brito
O primeiro coleccionador estudado declara-se a si mesmo um “não coleccionador” (p. 120), mas a longuíssima, variada e muito influente intervenção de José-Augusto França na vida artística portuguesa permitiu-lhe reunir quase 190 obras, quase todas de pequenas dimensões, a larga maioria por oferta — inclusive, uma pelo seu primeiro matrimónio, em 1946 — e muitas outras em sinal de “reconhecimento e amizade” (p. 138) dos artistas por ele criticados. Depois de as ter mostrado em Paris e em Lisboa (1989, 1997), cedeu-as dois anos depois a Tomar, sua terra natal, para um novo em folha, exclusivo e exíguo museu inaugurado em 2004 — guiado pelo mesmo impulso de “arrumar o que acumulou em sessenta anos de vida útil” que o levara em 1992 a doar o seu exemplarmente organizado arquivo à Biblioteca de Arte da Fundação Gulbenkian. Apesar de tudo isso, a díficil “captação de público” e uma reduzida equipa técnica dependente da autarquia limitam bastante o projecto, confinado a “instrumento de memória da sua vida intelectual” (p. 165), e que o doador, quase centenário, mantém “em aberto”, com depósitos anuais de novas peças de arte.
O livreiro e depois galerista Manuel de Brito, fundador da 111, em Lisboa (1964), representa toda uma outra abordagem à arte e aos artistas. O seu curioso trajecto biográfico aproximá-lo-ia dos pintores da sua própria geração, em geral vivendo “exílios” externos e internos num período politicamente crispado mas também muito dinâmico nos -ismos estéticos em voga, proporcionando-lhe uma convivialidade directa e afectuosa que não é despicienda neste mundo à parte.
Brito investiu desde 1969 numa colecção pessoal “com desejo de História” (cit. p. 193), uma “colecção panorama” (p. 208), a sua “pinacoteca ideal” (p. 209), os lucros obtidos como galerista e marchand de Jorge de Brito, comprando até a colegas de ofício (p. 183) e recebendo as habituais ofertas de artistas.
Meio século de galerismo feito de “trabalho e amor” (sic; cit. p. 171) é obra notável, continuada após a sua morte num centro de arte instalado num restaurado palacete ecléctico na frente ribeirinha de Algés, pertencente à câmara de Oeiras desde 1966, onde o “velho” acervo passou a ser exibido publicamente, enquanto no Campo Grande a galeria persiste — e, de algum modo, resiste — na atenção de sempre a artistas novos. O protocolo de cedência termina, note-se, em Novembro deste ano (pp. 190, 206).
Berardo e Cachola
Joe Berardo impôs-se com a grandeza avassaladora dos seus investimentos em arte moderna e contemporânea internacional, numa escala sem precedentes no nosso país. O seu interesse pessoal por colecções sequer se concentra, como noutros agentes, nesta área específica, indo muito para além dela e aparentemente em todas as direcções imagináveis (da arte déco à publicidade, de azulejaria antiga à cerâmica caldense e à escultura totémica oriental), num “acumular e adquirir por atacado” que a autora crê poder explicar-se com psiquiatria, psicanálise e origens humildes. A verdade é que o investidor madeirense soube delegar em Francisco Capelo — gestor da sua fortuna durante seis anos, mas também ele um coleccionador de grande mérito e filantropo — o tal conceito da colecção de arte, dando-lhe total autonomia para comprar o que e onde entendesse, desde grandes leiloeiras a galerias internacionais, logo em 1993. A um contexto de crise económica favorável ao investimento em arte juntava-se a capacidade e o talento dum “estratega, de um coleccionador que giza de modo racional os seus objectivos” (p. 221), com balizas definidas com precisão, desde a incidência autoral (“uma colecção de arte é sempre uma colecção de artistas”, Capelo, 1996; p. 227) à intenção museológica de representação de movimentos artísticos de maior impacto, como arte pop, abstraccionismo e surrealismo.

Joe Berardo
A colecção Berardo esteve dez anos no Sintra Museu de Arte Moderna (1997-2007), até poder instalar-se no seu “lugar óbvio” (sic), sonhado desde 1994, o Centro Cultural de Belém — cujas reservas técnicas de armazenamento pôde utilizar nesse período a troco de empréstimos ocasionais, já numa nítida rota de aproximação à solução almejada. A qualidade do edifício desenhado por Vittorio Gregotti, a sua centralidade urbana, a relevância da colecção internacional e a gratuitidade das visitas haveriam de conjugar-se para conferir ao Museu Colecção Berardo um sucesso retumbante favorável ao propósito do magnata de impor a compra da sua colecção pelo Estado português — melhor dito, de impor ao Estado português a sua própria “opção de compra” da colecção… Adelaide Duarte classifica-o por isso como um “coleccionador investidor” (p. 252) que, tendo aplicado 50 milhões de euros em 1993-99, busca realizar 316 milhões de euros, o valor atribuído pela idónea Christie’s à sua colecção de arte moderna e contemporânea — admitindo o futuro incerto de “um dos acontecimentos mais prósperos para a história do coleccionismo e da museologia em Portugal, na segunda metade de Novecentos” (p. 254).
Se Berardo foi, com a sua deliberada intensa mediatização, um epifenómeno “cultural”, ajudou sem dúvida a criar um ambiente favorável à aplicação em obras de arte de meios disponíveis por outros empresários, como António Cachola, cuja colecção, formada em muito poucos anos, constitui o Museu de Arte Contemporânea de Elvas, instalado também em 2007 num edifício muito nobre da vila raiana, adquirido e reabilitado, como em Tomar e Algés, a expensas públicas. Adelaide Duarte também reconhece que o MEIAC, criado em 1995, serviu “em certa medida de modelo” (p. 259) ao director financeiro da Delta Cafés, para a criação dum contraponto à vitalidade estremenha dos museus de arte contemporânea de Badajoz e de Cáceres-Malpartida. Mas ao contrário do comendador madeirense, Cachola desenvolveu uma cumplicidade geracional com os artistas (que o aproxima claramente de Manuel de Brito), seguindo o seu trabalho nos ateliers e fazendo aquisições directas, como cedo lhe sugeriu João Pinharanda, comissário e primeiro director artístico da colecção. Em 2009, ao fim de dez anos de compras, eram já 407 obras de 82 artistas, metade das quais produzidas na primeira década do século, o que diz bem do esforço do coleccionador de seguir a actualidade criativa emergente, tanto quanto o trabalho de artistas consagrados como Croft, Molder, Sanches, Sarmento e, mais recentemente, Augusto Alves da Silva. E isso já criou no museu dificuldades em espaços de reserva, para acomodar a colecção que entretanto cresceu exponencialmente, para 600 obras em 2016. Adelaide Duarte elogia vivamente “a causa” (p. 296) deste coleccionador, o arrojo da sua aposta em “artistas jovens, com carreiras por consolidar” e na descentralização cultural.
Todos estes quatro estudos de casos tiveram tiro de partida em datas muito próximas, e três deles fizeram o seu caminho beneficiando de protocolos de comodato que também por agora alcançam o seu término. Adelaide Duarte fez um bom trabalho, publicando este livro pioneiro de evidente oportunidade, faltando saber se tudo se tratou de uma tendência ou apenas de casos isolados mas coincidentes. Seja como for, enquanto coleccionadores privados, França, Brito, Berardo e Cachola ajudaram a melhorar a oferta museológica do país, com exemplos filantrópicos que — quem sabe? — talvez frutifiquem…
